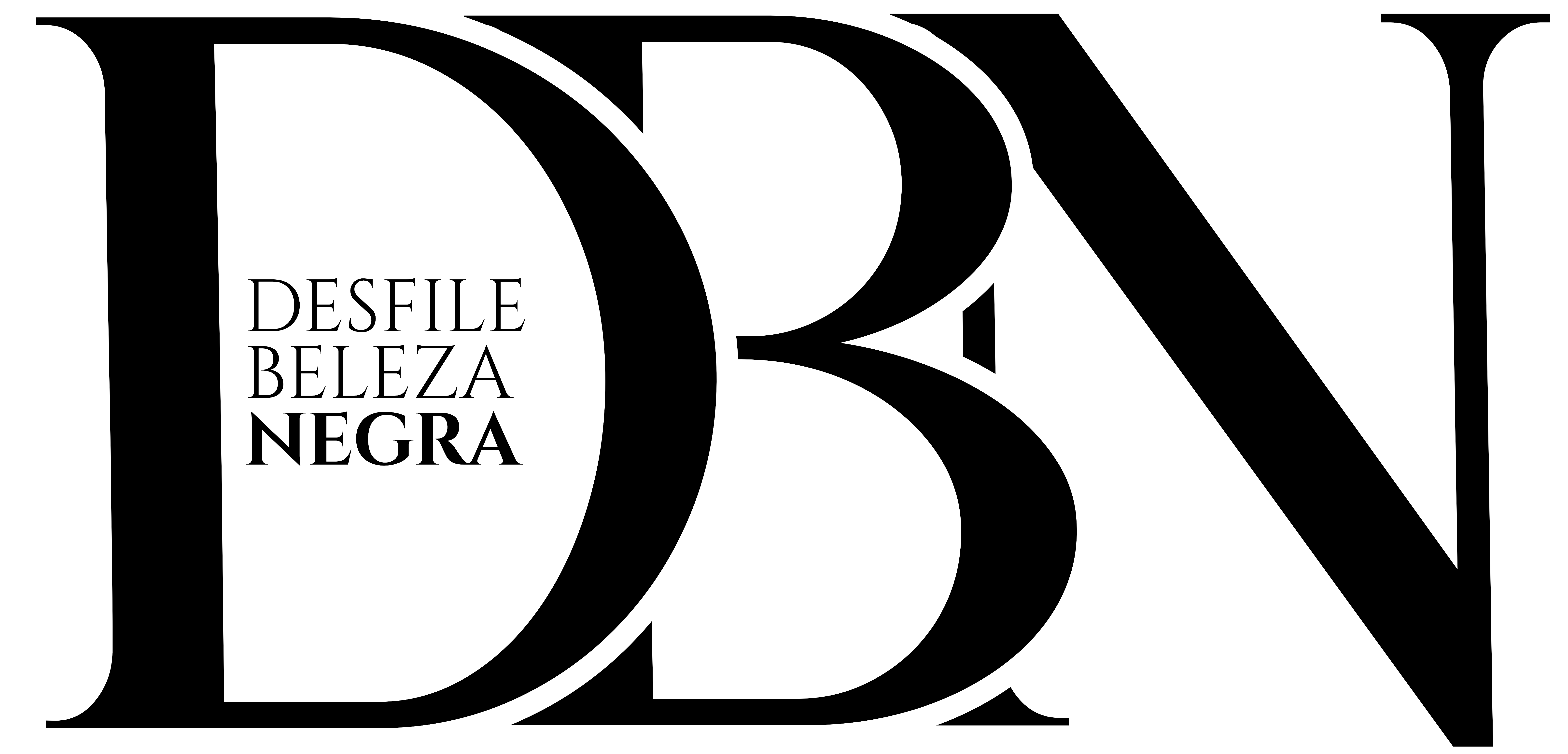A moda sempre foi um campo de disputa. Ao mesmo tempo em que traduz identidades e resistências, ela também reproduz desigualdades e apagamentos. Nesse cenário, a estética das periferias e comunidades negras ocupa um lugar incerto: rejeitada quando nasce dos corpos negros e territórios populares, mas exaltada quando apropriada por grandes marcas e estilistas de prestígio.
Tênis de cano alto, correntes douradas, calças largas, bonés de aba reta, turbantes e cabelos naturais. Elementos que carregam história e identidade, mas que, ao atravessarem os muros da favela, tornam-se mercadorias luxuosas, esvaziadas de sua origem.


Esse processo não é novo. O samba e o jazz foram marginalizados antes de serem absorvidos pela indústria cultural. O hip hop, nascido do Bronx nos anos 1970, foi criminalizado antes de inspirar marcas como Gucci e Louis Vuitton. No Brasil, o funk carioca foi estigmatizado como “coisa de bandido” antes de suas estéticas serem celebradas em editoriais de moda.
“É o ciclo do racismo estrutural na moda: o que é visto como perigoso no corpo negro se transforma em luxo quando é deslocado para o corpo branco”, explica a pesquisadora de moda Joyce Berth, que também é colunista e ativista feminista.


Mais do que inspiração, trata-se de apagamento. Enquanto jovens periféricos ainda são alvos de preconceito por suas roupas, estilistas renomados recebem aplausos ao apresentarem as mesmas referências como “novidade”.
“Quando um garoto negro veste corrente de ouro e bermuda larga, ele é lido como suspeito. Quando a mesma estética aparece em uma passarela internacional, ganha status de sofisticação. A diferença está em quem conta a história e quem lucra com ela”, pontua o estilista baiano Júnior Rocha, da marca Meninos Rei.
A resposta das comunidades vem em forma de criação e protagonismo. Marcas e estilistas negros vêm reivindicando suas narrativas e transformando estéticas marginalizadas em símbolos de orgulho.
No Brasil, a Lab Fantasma, criada por Emicida e Fióti, mostra como o streetwear periférico pode ser ao mesmo tempo estético, político e econômico. A marca baiana Meninos Rei, de Júnior e Céu Rocha, mistura referências africanas e periféricas em peças autorais que já circularam em semanas de moda internacionais. Estilistas como Isa Silva e Naya Violeta também reforçam que moda é ferramenta de identidade e não apenas tendência passageira.

Internacionalmente, nomes como Telfar Clemens, de origem liberiana, e Aurora James, do movimento 15 Percent Pledge, ressignificam o espaço da moda, questionando a hegemonia branca e criando modelos de negócio inclusivos.
O caminho para uma moda mais justa exige não apenas valorização estética, mas também reparação histórica e oportunidades reais para criadores negros e periféricos.
“O que a indústria precisa entender é que não basta se apropriar da quebrada. É preciso devolver. Isso significa crédito, investimento e espaço para que esses criadores contem suas próprias histórias”, afirma a consultora de moda e diversidade Ana Paula Xongani.

A estética da periferia não é um modismo: é cultura, memória e resistência. Reconhecer suas origens e permitir que seus criadores colham os frutos é o primeiro passo para transformar a moda em um espaço menos predatório e mais representativo.
A verdadeira revolução não está em transformar a quebrada em vitrine fashion, mas em garantir que a quebrada seja protagonista de sua própria narrativa.